“Explode a força do funk, DJ!”
- 30 de maio de 2020
Por Gabriela Ribeiro e Nuala Cambará
Ilustrações por Marina Duarte
“(…) A massa funkeira
Pede a paz geral
O baile tá uma uva
Por isso a gente fica na moral
Também vamos citar as rapeize sangue bom
Não tem mais violência, todo mundo é irmão
Jacaré, Mangueira, Arará, Bebê, Pavão
Rocinha, Vidigal e também os Dois Irmãos(…)”
Rap da Massa Funkeira – MC Ailton, MC Binho e DJ Marlboro
Até os hits dos DJ’s Rennan da Penha e FP do Trem Bala chegarem aos stories de grandes influenciadores nas redes sociais, muito teve que ser feito por quem é apaixonado pelo funk e vive dele. Trazido da cultura preta estadunidense, filho do funk soul – originado em 1960 influenciado pelo Blues e pelo Soul –, o funk como o conhecemos chegou ao Brasil em 1970 apenas com a possibilidade de serem tracks remixadas – ou seja, no início, não eram produzidas em território nacional.
Foi o DJ Marlboro, um dos grandes responsáveis pela nacionalização das tracks norte-americanas que chegavam aqui por volta da década de 1970, colocando letras em português em cima das batidas estadunidenses. Assim, foram sendo disseminados os novos funks na maioria dos clubes de dança cariocas – os precursores dos bailes. Também em meados de 1970, surgiu o primeiro baile funk na Zona Sul do Rio de Janeiro, o Canecão, junto aos “Bailes da Pesada” organizados por Ademir Lemos e Big Boy.
Durante as suas primeiras décadas, essa nova cultura ficou restrita apenas aos territórios periféricos e favelados, já que foi marginalizada por emergir das expressões do povo preto e da classe trabalhadora. Na década de 1990, o funk atingiu seu então pico de popularidade entre brasileiros de vários segmentos sociais, possibilitando sua maior visibilidade, principalmente entre os principais veículos de comunicação. Um episódio marcante foi a ida de DJ Malboro ao programa “Xuxa Park”, em 1994.
No final da década de 1990, a mídia convencional não conseguia ignorar o fenômeno que era o funk carioca, mas também não podia aceitá-lo como o movimento político, diverso e com letras carregadas de críticas à elite. A solução encontrada foi excluir toda a gama de temas abordados pelos MCs e resumi-lo à erotização que vinham nas letras de duplo sentido do funk putaria. A partir disso, o gênero musical foi tratado como um ritmo sem consciência crítica e limitado a estereótipos negativos sobre quem o produzia, consumia e frequentava os bailes.
O funk, nesse momento de popularização massivo, passava por uma ambiguidade: atingia alcance nacional enquanto via MCs que não cantavam putaria não atingirem tal sucesso. A dominação do funk era inegável. Qualquer jovem adulto com seus 20 e poucos anos teve acesso ao ritmo nessa época. Bonde do Tigrão, Jonatan da Nova Geração e outros hits que vinham da Furacão 2000 eram de lei em festas de aniversário e outras festividades. No entanto, mesmo com sua popularização, a cultura funk não deixou de ser criminalizada.
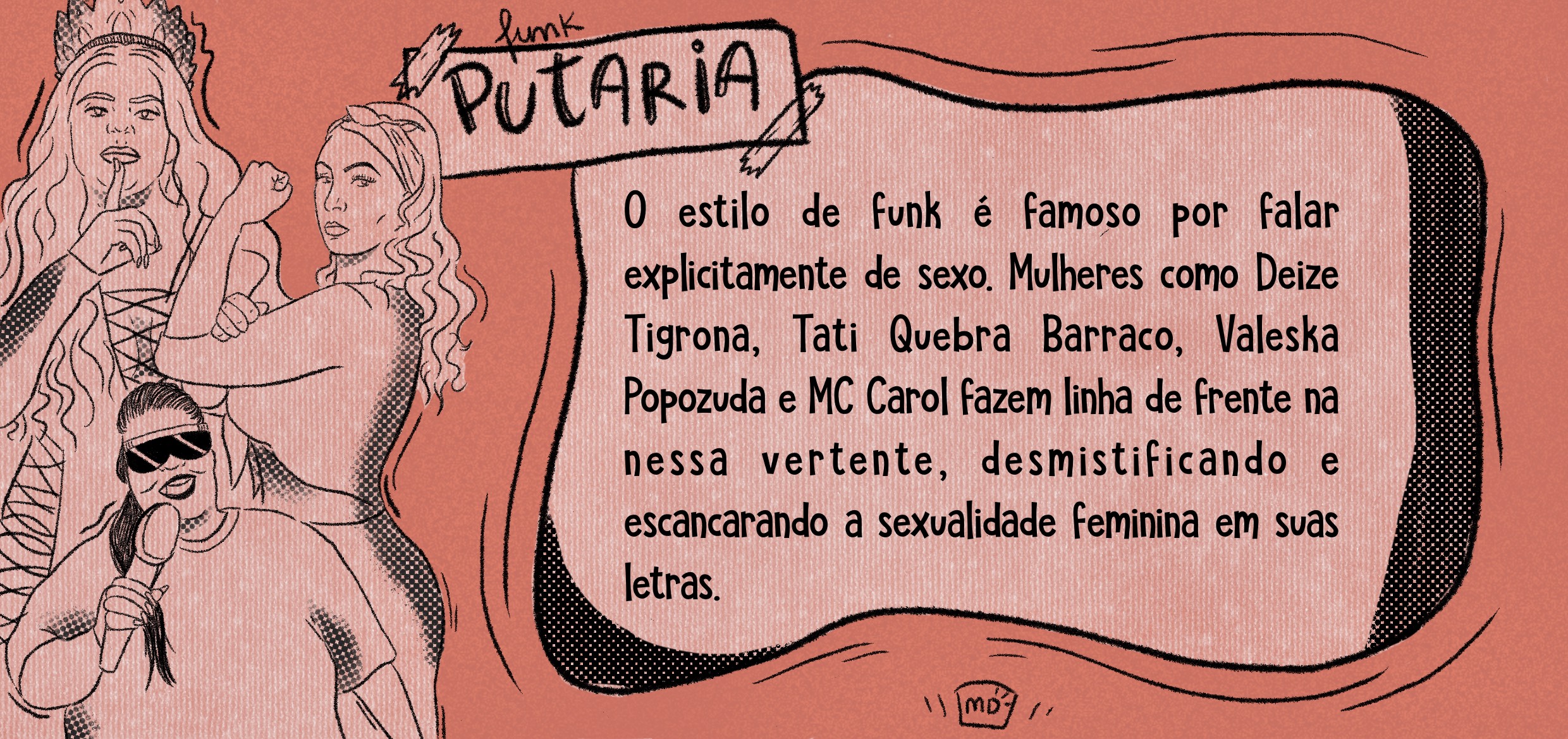
Embora hoje o funk seja de fato reconhecido pela Câmara enquanto movimento cultural, ele foi consolidado no Brasil como movimento de contracultura. Por ser uma nova cultura emergente das bases brasileiras, das periferias e das favelas, desde seu surgimento foi marginalizado pelas elites. É voz de um grupo socialmente excluído que passou a se expressar por meio da cultura, subvertendo a lógica do que é considerado consumível, bonito ou aceitável pelo senso comum. Quando esse grupo passa a ocupar espaços no âmbito da indústria musical – ou de qualquer outro elemento da indústria cultural –, também faz política. Dar voz aos medos, aos anseios e ambições da periferia e da favela, no Brasil entre a década de 1980 aos anos 2000, foi um ato político, pois, assim como o rap nacional levou novas perspectivas e esperança de autonomia aos jovens pobres, o funk também o fez.
Entretanto, é inevitável falar de estigmatização aos movimentos populares culturais nacionais sem olhar para o que já fomos e para os antigos planos da elite brasileira. Por mais que se tente disfarçar o ódio por tudo que emerge da cultura preta, a lógica eugenista – herança do período de escravatura no Brasil – persiste no pensamento dessa elite. Em setembro de 2017, um projeto de lei de criminalização do funk foi encaminhado à Comissão de Direitos Humanos e Legislação Participativa e posto em discussão entre os senadores. A proposta de autoria do empresário paulista Marcelo Alonso alegava que o gênero musical tratava-se de um “crime de saúde pública à criança, aos adolescentes e à família”. No site do Senado Federal, o empresário recebeu 21.978 apoios, em forma de assinaturas.
O geógrafo marxista David Harvey, em seu ensaio “Alternativas ao neoliberalismo e o direito à cidade”, afirma que:
“(..) o direito à cidade não é simplesmente o direito ao que já existe na cidade, mas é o direito de transformar a cidade em algo radicalmente diferente. Quando olho para a história, vejo que as cidades foram regidas pelo capital, mais do que pelas pessoas. Assim, nessa luta pelo direito à cidade, haverá também uma luta contra o capital”.
A lógica das grandes cidades, de estabelecer os serviços essenciais e os equipamentos que garantam que isso ocorra apenas nos centros, é rompida quando os bailes ou fluxos começam a promover lazer, cultura, geração e circulação de renda dentro da própria periferia – e acabam por dar uma certa autonomia aos favelados, que não precisam mais do centro e da elite para ter acesso a esses direitos.
Os fluxos não são responsáveis apenas por gerar referências na moda – que influencia também jovens de regiões elitizadas –, mas gera renda econômica para as quebradas. Pense comigo: o fluxo está rolando, mas nem sempre as pessoas levam bebidas de casa, então, a tia do carro, por exemplo, vende bebida. Bateu fome? O tio do churrasquinho na esquina do baile. São comércios locais; empreendedorismo periférico e familiar.
No final dos anos 1990, quando o funk já era um fenômeno nacional, quem decidia o que deveria ser ouvido em larga escala era a mídia convencional. Mas isso não era um problema, porque já havia muito funkeiro aparecendo na TV, certo? Não.
Como a mídia hegemônica definia o que deveria ser consumido, consequentemente, obtinha o monopólio da renda e do poder de definir quem poderia cantar nos meios de comunicação de massa. Os MCs que não cantavam o que era de interesse ficavam fora dos programas de TV, das rádios e das revistas, logo não ganhavam dinheiro com o seu trabalho. “Ironicamente”, alguns desses MCs cantavam o funk consciente e abordavam temas como violência policial e a realidade do trabalhador. O “Manifesto do Movimento Funk É Cultura” (2008) fala sobre a necessidade de se criar uma alternativa para que os produtores de funk consigam divulgar seus trabalhos sem precisar da mídia tradicional, o que foi possível com a democratização do acesso à internet e com a popularização das redes sociais. Isso torna oficial o fato de que o funk não precisa da elite.
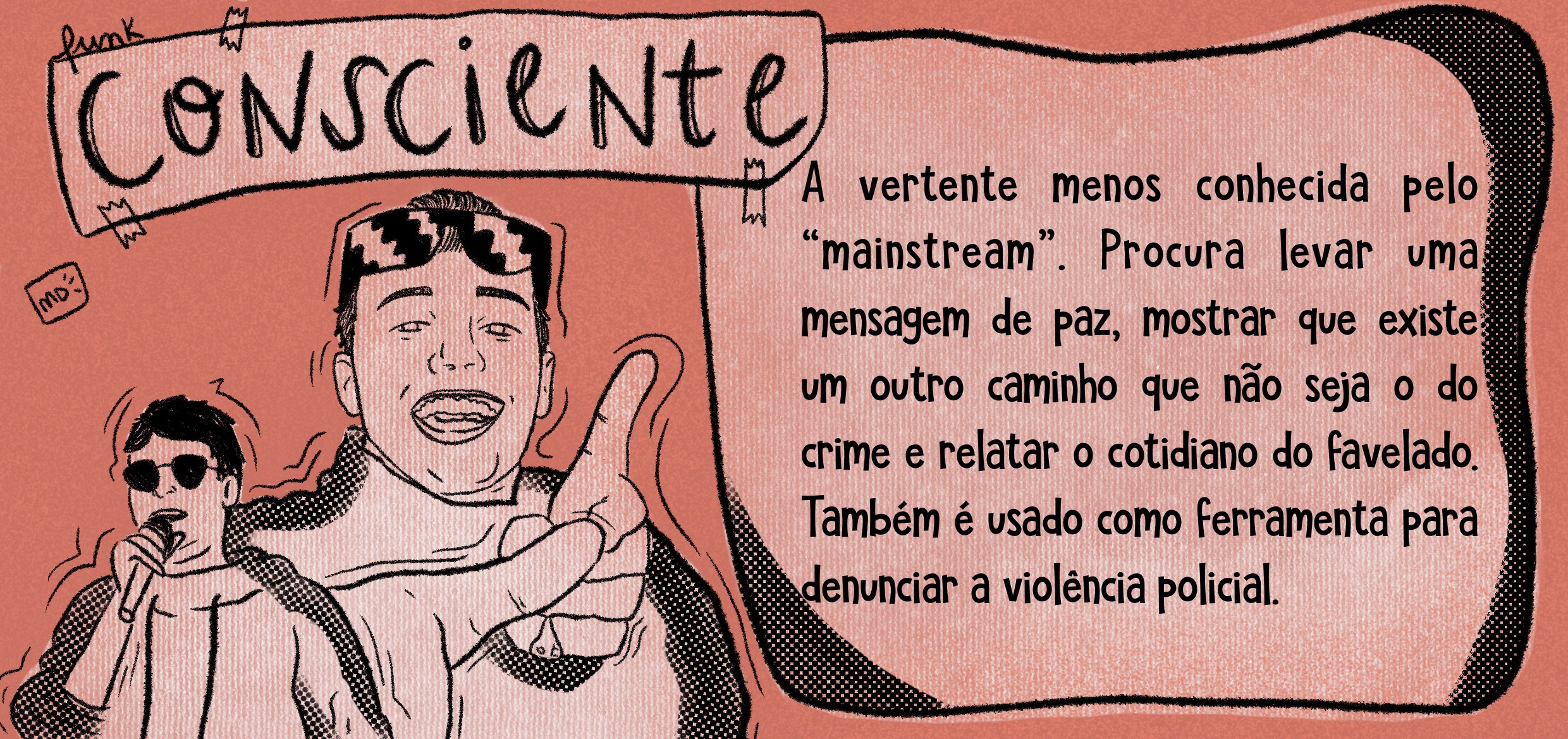
A elite brasileira tentou impedir que mais um movimento popular fosse completamente autônomo e crescesse sem sua aprovação.
O funk é perseguido desde quando ganhou notoriedade nacional. A mídia convencional constantemente associava os frequentadores de baile funk aos arrastões nas praias do Rio de Janeiro, com desculpa de que haveria “violência” nos bailes de corredor.
Em contrapartida, a violência contra os funkeiros era ignorada. No caso dos seis MCs da Baixada Santista, mortos entre 2009 e 2013, a polícia não encontrou qualquer suspeito pelos assassinatos do Felipe Boladão e DJ Felipe, Duda do Marapé, Primo, Careca e Daleste. Mais recentemente vimos Rennan da Penha, o organizador e DJ do maior baile do Rio de Janeiro, ser preso por associação ao tráfico ao mesmo tempo em que MCs que não possuem a mesma cor de pele e não cantam/tocam as mesmas coisas que ele chegarem aos topos das paradas musicais. Frequentemente, é visto o esforço de MCs na tentativa de desmentir notícias falsas que os relacionam a crimes. Além disso, comentários extremamente preconceituosos e racistas relacionados ao funk e aos bailes são evidências da política de extermínio da população preta e favelada, como foi o caso do Massacre da DZ7, em Paraisópolis, que terminou com a morte de nove jovens, entre 14 e 23 anos, depois de uma ação criminosa da Polícia Militar de São Paulo.

Enquanto isso, jovens brancos de classe média alta aderem cada vez mais à estética da periferia, a mesma que um dia foi motivo de riso. Seja do risquinho e o piercing na sobrancelha. Seja do Juliet ou das roupas da Lacoste e Oakley. Seja o dedinho para cima e as danças. O jovem branco rico pode até se vestir igual favelado, mas não é reprimido ao se juntar com os amigos em um shopping – como foi o caso de adolescentes negros e periféricos que chegaram a ser retirados pela polícia nos famosos “rolezinhos”.
Quando há fatores sociais e relações de poder material e simbólico que relacionam sujeitos do mesmo grupo social ao crime organizado, divertir-se com o bonde se torna um ato político. Se trata de resistir dentro de um sistema político-econômico movido pela exploração de classes subalternas e que tem a exclusão de determinados grupos sociais para obter lucro como produto final,.
Nas palavras da MC Carol em entrevista para o Jornal da UNE: “cara, o funk já é muito político desde sempre. Mas o funk político era chamado de funk proibidão porque falava do tiroteio, da morte e também música de duplo sentido sobre sexo. Eu canto sobre eu ser mulher pobre e preta.
Se o funk de comunidade fala da vida real das pessoas, então funk é política”.


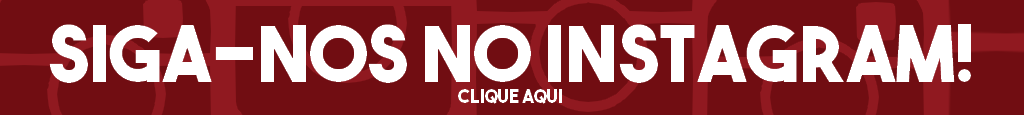



1 Comment
O funk esta crescendo inclusive artistas internacionais já estão se rendendo ao ritmo olha só a matéria desse site http://estoesnovo.blogspot.com/2020/07/a-internacionalizacao-do-funk-brasileiro.html